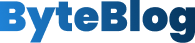Ao longo dos meus 40 anos de advocacia, percebi que poucas áreas do Direito são tão presentes e, ao mesmo tempo, tão subestimadas quanto o Direito Imobiliário. Ele é o alicerce sobre o qual construímos nossas vidas, seja na compra da casa própria, na locação, no investimento, seja para uso próprio ou comercial, e ainda quando da partilha, seja ela patrimônio empresarial ou familiar.
Embora seja tecnicamente definido como o ramo do direito privado que regula as relações com bens imóveis, na prática ele é muito mais: é o campo que lida com a segurança dos lares e a viabilidade dos negócios, dialogando constantemente com o Direito Contratual, Sucessões, de Família e, crucialmente, com o Código de Defesa do Consumidor — instrumento utilizado no dia a dia para proteger o cidadão frente às grandes construtoras.
O pilar de toda essa estrutura é o direito de propriedade, garantido pela Constituição Federal como um direito fundamental de primeira geração (art. 5º, XXII). Isso significa que ser proprietário, com os poderes de usar, gozar, dispor e reaver o bem de quem quer que injustamente o possua ou detenha (art. 1.228, CC), é uma conquista histórica de proteção do indivíduo. Contudo, a experiência nos mostra que nenhum direito é absoluto. A própria Constituição, de forma sábia, impõe que a propriedade atenda à sua função social (art. 5º, XXIII), um princípio que exige que a riqueza imobiliária sirva não apenas ao dono, mas também ao bem-estar coletivo, conforme detalhado nos artigos 170, 182 e 186 da Carta Magna.
A partir dessa base, desdobram-se os institutos que movimentam o dia a dia do mercado. Um dos pontos que mais geram litígios é a confusão entre posse e propriedade. É fundamental entender que a propriedade, em sua plenitude, só se consolida com o registro no Cartório de Registro de Imóveis. A posse, por sua vez, é o exercício de fato sobre o bem (art. 1.196, CC). Um erro crasso — e infelizmente comum — é acreditar que um “contrato de gaveta” garante a propriedade, quando ele apenas gera direitos obrigacionais e uma imensa insegurança jurídica.
Essa formalização se materializa nos diversos contratos imobiliários, como a clássica compra e venda (art. 481, CC), a doação (art. 538, CC), a permuta (art. 533, CC) e a locação, esta última regida pela específica Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/91). Em todos eles, um instrumento bem redigido é a melhor prevenção contra problemas futuros. A complexidade aumenta quando falamos da vida em condomínio edilício (arts. 1.331 a 1.358, CC), um verdadeiro microcosmo social onde a convenção e o regimento interno funcionam como leis para garantir a harmonia entre os condôminos.
Um campo particularmente sensível é o da incorporação imobiliária, onde imóveis são vendidos quando ainda “na planta”, como popularmente chamado. Aqui, o sonho da casa própria é protegido pela Lei nº 4.591/64, que sabiamente exige o registro prévio de todo o projeto antes do início das vendas (art. 32). Por isso, uma das minhas primeiras dicas de ouro é: na compra de imóvel na planta, o Memorial de Incorporação é rei, fazendo-se mister a exigência da certidão de ônus para comprovar o registro. A ausência desse registro é um sinal vermelho de altíssimo risco que não deve ser ignorado.
Em outra ponta, temos a usucapião, um instituto que, em minha visão, possui uma dupla e nobre finalidade: sancionar o proprietário negligente e, de forma ainda mais relevante, garantir a segurança jurídica ao estabilizar a relação entre o homem e a coisa. Ao permitir que aquele que cuida e dá destinação a um imóvel por tempo prolongado possa adquirir a propriedade (arts. 1.238 a 1.244, CC), o Direito consolida uma realidade social, fazendo triunfar o trabalho e o cuidado sobre o abandono.
Toda essa dinâmica nos leva ao coração da segurança jurídica: a transação e seu registro. E aqui, peço licença para falar não apenas como jurista, mas com a bagagem de quem já viu muitas histórias se desenrolarem. Em meus 40 anos de advocacia “de balcão”, se eu pudesse eleger o erro mais custoso e doloroso que vi meus clientes cometerem, seria negligenciar o registro da propriedade. O ditado “quem não registra não é dono” é a mais pura tradução do nosso art. 1.245 do Código Civil. Por isso, meu segundo conselho é: a matrícula do imóvel é sua verdadeira fonte de informação.
Antes de qualquer passo, exija uma certidão de ônus atualizada. É nela que mora a verdade sobre o bem e sua história. Lembre-se de que “contrato de gaveta” é um risco, não uma solução, e que a economia com a documentação é, quase sempre, um “barato que sai caro”, pois os custos para remediar um problema são infinitamente maiores que os custos para preveni-lo.
A legislação, sempre em movimento, também nos traz desafios, como a recente (nem tão recente mais) Lei do Distrato (Lei nº 13.786/2018), que tornou as multas por desistência da compra na planta mais rígidas, exigindo do consumidor uma análise contratual ainda mais criteriosa. E não podemos esquecer do onipresente Direito de Vizinhança (arts. 1.277 e seguintes, CC), fonte inesgotável de conflitos que, muitas vezes, poderiam ser resolvidos com bom senso. Minha última dica é: tente sempre o diálogo com o vizinho, mas, se ele não for suficiente, não hesite em buscar orientação para garantir sua paz e seu direito.
Seja no financiamento imobiliário, hoje dominado pela alienação fiduciária (Lei nº 9.514/97), ou na mais simples locação, o Direito Imobiliário se mostra um campo vasto e essencial. Ele exige do profissional um conhecimento profundo e multidisciplinar — não para complicar, mas para simplificar e proteger, garantindo que o direito à moradia e a livre iniciativa caminhem sempre sobre terreno firme e seguro.
Por fim, para proteger o patrimônio do cidadão em face de dívidas por ele contraídas, frise-se: quando se tratar de seu único imóvel, foi garantida pela Lei nº 8.009/90 a proteção desse patrimônio, considerando-o como bem de família, e, como tal, impenhorável em praticamente todos os casos de cobrança de dívidas — à exceção de dívidas em fiança de locação, financiamento, impostos, pensão alimentícia, dívidas condominiais, para ressarcir crimes ou quando o próprio devedor o ofereceu como garantia.
*Escrito pelo advogado João Batista Dallapiccola Sampaio, em conjunto com o advogado Anderson Pimentel Coutinho.